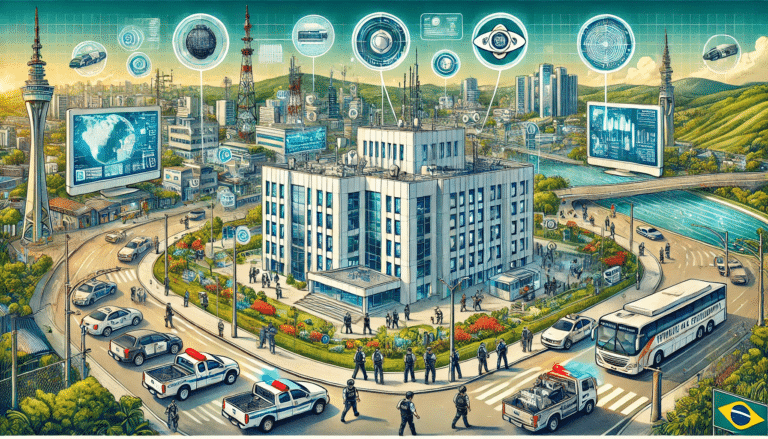“Desta pandemia, espero que saia uma nova valorização do papel do professor”

| Não fique refém dos algoritmos, nos siga no Instagram, Telegram ou no Whatsapp e fique atualizado com as últimas notícias. |
Durante a pandemia tenho participado de uma série de encontros virtuais sobre os currículos de história, tema bastante debatido, mas fui surpreendida por uma invasão cibernética em um evento. No dia 15 de dezembro havia sido convidada para a aula de encerramento do curso de história da Universidade Federal do Maranhão [UFMA] para discutir, dentre outros temas, a implementação da disciplina proposta pela Base Nacional Comum Curricular, em um evento on-line. O tema era o currículo dos cursos de história, tanto das escolas como das universidades. Havia mais de 800 inscritos, com participantes de outras universidades. Logo no início do evento começou uma invasão virtual violenta. Foram exibidas cenas de pornografia horrorosas, xingamentos, gritos e palavrões. Eu nunca tinha presenciado algo tão agressivo em encontro acadêmico. É horrível. Todos precisamos sair e o evento foi cancelado, os técnicos não conseguiram localizar de onde vinha o ataque. Pensei: será que foi o meu nome que provocou isso pelo fato de ser uma mulher historiadora? No dia seguinte soube que houve um ataque muito parecido em um evento de mulheres cineastas.
Pesquiso a história dos currículos escolares e dos livros didáticos há mais de 30 anos e nos últimos anos temos enfrentado o debate de como inserir temas sobre história das mulheres, das populações indígenas e africanas, história ambiental, entre outros no ensino cotidiano das escolas. Assim que me aposentei pela Universidade de São Paulo [USP] retornei para um projeto de pesquisa em que um dos objetivos é digitalizar as obras da Biblioteca do Livro Didático [BLD] e Coleções Especiais, com cerca de aproximadamente 30 mil volumes, que fica no segundo andar da Biblioteca da Faculdade de Educação da USP. Temos obras raríssimas, do século XIX. Com a quarentena, os pesquisadores ficaram paralisados porque parte da pesquisa parou. Tudo o que é digitalizado vai para o Livres, o Banco de Dados de Livros Escolares Brasileiros criado no início do século XXI.
A digitalização é parte do processo, que fazemos enquanto desenvolvemos nossas pesquisas sobre a produção didática tanto no Brasil como em escala internacional. Temos olhado para a imagem do outro nos livros didáticos de história: como o brasileiro é visto, os franceses, os italianos, os africanos. Também temos analisado os livros de formação de professores e sua circulação em escala internacional, suas traduções, entre outras coisas. Afinal, o livro didático serve para o aluno, mas também tem o livro do professor, muitas vezes fundamental em sua formação. Além disso, livros de pedagogia, como os de Paulo Freire [1921-1997], circulam em bibliotecas internacionais – observamos um pouco dessa circulação. Temos realizado seminários internos, escrevendo, fazendo circular internamente e por meio do Livres o material que temos. Atualmente a pandemia restringiu o acesso a esses documentos didáticos. Recebo muitas mensagens de pessoas solicitando acesso aos livros. Mas não posso abrir a biblioteca, que ainda está fechada e não se pode colocar pesquisadores e funcionários em risco.
Comecei a organizar esse acervo nos anos 1990, depois do doutorado. Eu mandava cartas para os professores da USP, perguntando se tinham livros didáticos velhos. Chegavam caixas e mais caixas. Aconteceram episódios engraçados, como uma vez em que um professor da Escola Politécnica chegou com uma caixa de livros. Ele colocou em cima da mesa e disse: “Quero ver se vão ficar bem guardados.” Mostrei a biblioteca, apresentei nosso trabalho. Ele começou a tirar os livros da caixa e a cada um lembrava de alguma coisa. “Este é um livro de latim”, disse, “o professor era tão bom, lembro da aula dele. Acho que este não vou doar”, e colocava de volta na caixa. Há muitas histórias nesse processo de doação de livros. As próprias editoras também mandaram volumes importantes, além de ter me tornado especialista em visitas a sebos.
Mas comecei a ficar preocupada depois de ver o que aconteceu com o acervo de Alain Choppin [1948-2009], um historiador francês, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa Educacional da França, o INRP, com quem trabalhei e que foi minha referência para montar a biblioteca e o Banco de Dados Livres. Ele foi o criador do Emmanuelle, primeiro banco de dados de livros didáticos. Mas morreu em 2009 e seu trabalho ficou paralisado, sem ninguém responsável pelo acervo e o banco de dados. Depois disso, fiquei muito receosa. Estou com 75 anos e pensei: se morro, é capaz de a BLD não sobreviver. Nos últimos três anos, a biblioteca da Faculdade de Educação passou de 32 para 12 funcionários e ficamos sem bibliotecária para nosso acervo. Depois da minha aposentadoria, não havia pessoas interessadas em cuidar do material na Feusp. Por isso, foi importante retomar o projeto atual com apoio da FAPESP, para a digitalização do acervo. São livros antigos e muitos em mau estado de conservação: e se decidem jogar tudo fora?
Antes da pandemia eu tinha planos de trazer para o Brasil uma exposição multimídia sobre livros indígenas brasileiros, que ajudei a organizar como curadora e ficou dois anos rodando em cidades da Itália. Por aqui, faríamos a exposição na USP e na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A mostra contextualiza os indígenas no Brasil, falantes de mais de 178 línguas, e centra-se na educação indígena, pesquisa que venho desenvolvendo nos últimos anos. O objetivo foi mostrar a história da educação indígena – a que nós demos a eles, a que eles passam aos filhos – junto a sua comunidade, seu interesse em educação escolar, por que resolveram escrever livros didáticos. Buscamos mostrar que os povos indígenas têm história, assim como qualquer outro grupo social. Pensamos fazer uma exposição virtual. Tenho estudado com especialistas o que pode ser feito e tentado acompanhar exposições on-line pelo mundo, feitas na atual conjuntura.
Desde o início da quarentena, fico mais na minha casa em Ubatuba, no litoral paulista, no meio da Mata Atlântica. Meu filho, que é artista, passa boa parte do tempo comigo, porque ele tem um ateliê lá. Minha filha e meu marido se revezam entre Ubatuba e São Paulo. Tenho um espaço grande no meio da Mata Atlântica, então posso me exercitar e cuidar das plantas. É muito mais saudável. Em São Paulo fico presa, não quero sair e me expor. Tenho conseguido trabalhar muito bem em meio à natureza, quero me mudar definitivamente. Levo meus livros, faço minhas pesquisas, participo de eventos internacionais de forma remota e dou aulas em duas disciplinas do curso ProfHistória da Universidade Federal de São Paulo [Unifesp]: uma sobre história do ensino de história e outra sobre metodologias de ensino e de aprendizagem. O curso integra um mestrado profissional para professores de história que estejam trabalhando em sala de aula. Suas pesquisas precisam estar relacionadas com esse ambiente de trabalho e eles devem produzir algum material didático no final do curso. Fui convidada para dar esse curso no segundo semestre de 2019 e então participei de poucas aulas presenciais. Logo veio a quarentena e os encontros passaram a ser on-line.
Meus alunos dão aula tanto para estudantes da rede de ensino pública quanto privada e boa parte de suas pesquisas precisou ser reelaborada, já que eles não têm mais a vivência na sala de aula. Eles também relatam as dificuldades desse período de trabalho remoto: dizem que se sentem muito sobrecarregados, porque dar aulas nessas condições é muito difícil. Na rede pública, boa parte dos alunos não tem computador ou internet. Além disso, muitos professores de escolas de regiões mais pobres precisaram se revezar nas escolas, presencialmente, para ajudar também a distribuir merendas, entre outras necessidades.
Tanto os que trabalham na rede pública quanto os da privada dizem que é difícil dar aula on-line, porque os alunos não obedecem facilmente e as dificuldades são muitas. Se com o professor presente já é difícil, imagine longe. É muito complicado saber se as crianças estão aprendendo, mesmo que façam e entreguem os exercícios pedidos. A avaliação é complicada. Há uma diferença muito grande. Uma coisa é fazer tarefas escolares e outra é aprender. Na sala de aula, você passa um filme, por exemplo, e depois faz um debate. Esse debate é o momento da aprendizagem, quando os alunos compartilham o que aprenderam. Cada aluno tem um processo de apreensão diferente, seja pela idade, seja pelos interesses que movem a vida dele naquele momento. Então, no debate há observação, conversa, e é preciso estar junto ao aluno, conversando com ele. Depois, pode-se passar um texto para complementar o aprendizado. Mas essa metodologia é impossível de realizar a distância, as crianças e os adolescentes não conseguem ficar tanto tempo concentrados em frente às telas. Para nós adultos já é uma dificuldade. Os professores contam que as crianças em processo de alfabetização regrediram muito durante esse período. Essas novas tecnologias são mais um meio de aprendizagem, mais um material pedagógico, mas elas, sozinhas, não resolvem o problema da educação e não substituem o método presencial, do diálogo com os alunos, que é fundamental.
Até os livros didáticos foram feitos para serem lidos com o professor, e não para crianças e adolescentes lerem sozinhos. Deve ser um material de apoio à aula, não a aula em si. O aluno precisa da discussão com o professor e colegas. Observo meu neto de 13 anos: ele está muito triste por não encontrar os amigos da escola. Geralmente um ensina o outro. Antes da pandemia, ele ficava sempre comigo e eu via como ele gostava de ensinar matemática para os amigos em trabalhos em equipe, por exemplo.
Penso que 2020 foi um ano perdido do ponto de vista educacional. Uma das lições que podemos tirar é a de que o professor tem que estar em sala de aula e com poucos alunos, nada de sala abarrotada. Porque é preciso conversar, dialogar, e uma tela de computador não resolve o assunto. Há uma tendência, nesses currículos de escolas atuais, de querer substituir os professores por máquinas, por tecnologias. Outra lição que é preciso tirar deste período é uma nova valorização do papel do professor. Tenho esperança. O professor não é técnico e as tecnologias não o substituem. Espero que os pais valorizem mais os professores.
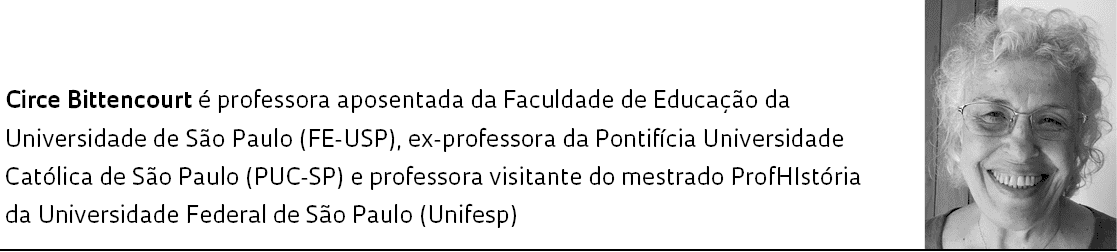
Fonte: Fapesp
Participe no dia a dia do Defesa em Foco
Dê sugestões de matérias ou nos comunique de erros: WhatsApp 21 99459-4395